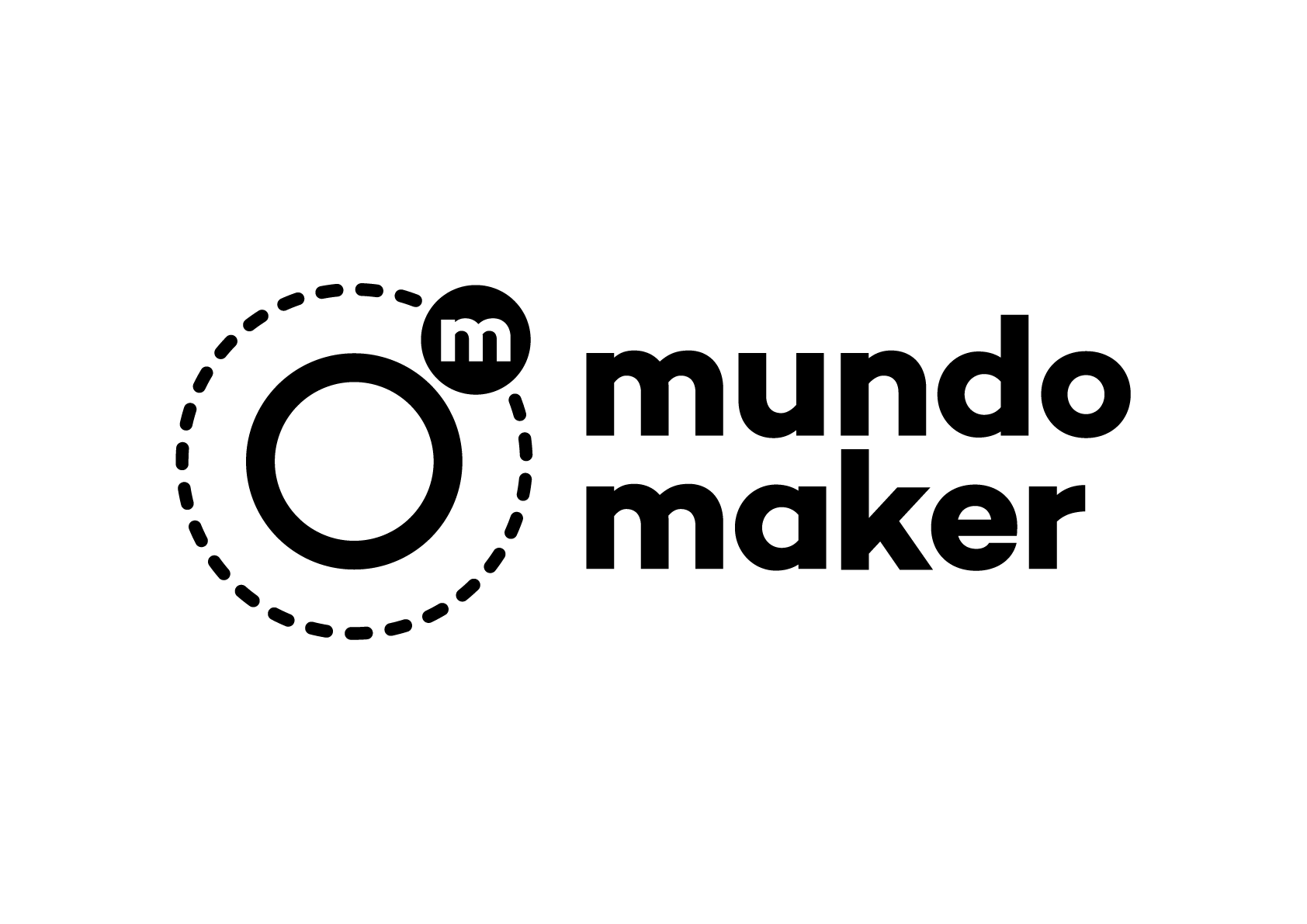Dos seus 83 anos de idade, 60 foram dedicados ao magistério e mais de 20 ao estudo da informática na educação. Léa Fagundes, coordenadora do Laboratório de Estudos Cognitivos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), defende um modelo de inclusão digital nas escolas em que o aluno seja protagonista do aprendizado. Em entrevista concedida ao site Terra, ela fala sobre as mudanças radicais que devem acontecer para melhorar o ensino.
Em que nível o Brasil está no que diz respeito à inclusão digital e ao uso de ferramentas computacionais em sala de aula?
O Brasil é um continente, então não dá para avaliar o país como um todo. No Amapá, é uma realidade, em Curitiba é outra. Mas, apesar de todas as diferenças, nós temos uma unidade cultural, falamos a mesma língua, e os programas dos currículos são semelhantes. Os NTEs (Núcleos de Tecnologia Educacional) e a formação dos professores que veio junto com eles avançaram muito o Brasil nessa área. Chegou um momento em que a gente teve que criar cada vez mais núcleos e, com eles, mais laboratórios de informática. Acontece que nós não queríamos mais laboratórios, porque isso não resolve a questão da inclusão.
Por que os laboratórios não são uma solução?
No mundo, e aqui no Brasil inclusive, quando começou a se falar em inclusão digital nas escolas foram instalados laboratórios. Por quê? Porque os computadores eram muito caros, então não podia ter fartura, não era possível um por aluno, e laboratórios eram mais viáveis. Mas qual o problema deles? Na maior parte das vezes, são formados técnicos para trabalhar no local, mas o professor de sala de aula não vai ao laboratório e não se especializa. Então os alunos vão ao laboratório, depois voltam e o docente manda que eles se sentem um atrás do outro e abram o caderno, não há integração entre os momentos. Por isso nos encantamos com a ideia do OLPC (One Laptop Per Child), projeto de computador educacional iniciado no Massachusetts Institute of Technology.
Quais são as principais diferenças da inclusão digital nas escolas no Brasil em relação a outros países?
A principal diferença entre nós e países da América do Norte e da Europa é que adotamos um programa em que as crianças podem programar o computador, e não serem ensinadas por ele. Nós defendemos a linguagem Logo (criada por Seymour Papert, um dos idealizadores do OLPC) para a informática na educação. Na maior parte do mundo, são colocados computadores e um sistema para ensinar a criança, como se fosse o conteúdo passado por um professor para o aluno. Esse é outro paradigma, é uma mudança completa na escola. O estudante passa a ser investigador e a programar o computador. Agora tu me perguntas: o Brasil está melhor nessa área? Sim. Mais do que todos os países? Não. Mas, por exemplo, na França, formaram mil professores, e o computador era barato porque era nacional. Mas esse modelo também era tradicional, de professor que tem que saber mais que aluno. Para mim, não é assim, vejo o aluno como um pesquisador, e o professor, um orientador.
Como deve ocorrer essa mudança?
É importante destacar que a questão não é aprender a mexer no equipamento, nem aprender conteúdo de sala de aula no computador, é o aluno programando, pesquisando, isso exige um currículo totalmente novo. O currículo, que a gente luta para transformar, tem de ser interdisciplinar e não precisa ser sequencial. Por exemplo, quando o aluno chega para o professor e diz que tem curiosidade de aprender determinado tema, e o professor responde que não pode, porque o conteúdo é do próximo ano, isso prejudica o aprendizado. O aluno tem que ter curiosidade no que é ensinado, por isso o problema apresentado tem de ser instigante, interessante. Os alunos surpreendem a gente.
Quais são os entraves enfrentados na inclusão da tecnologia no ambiente escolar?
Nós temos bons programas nacionais de educação e informática, e nos últimos 30 anos tivemos muitos projetos de visão nacional. O problema é que, quando mudam os governos, os projetos sofrem muito, porque as pessoas que entram na nova gestão não têm conhecimento suficiente ou não querem prestigiar o partido que antecedeu, então temos tido dificuldade com a continuidade. Por outro lado, o Brasil tem uma história, e ela, apesar de interrupções, não estacionou, está avançando. E eu acredito que futuros professores vão mudar esse cenário, pois são pessoas novas que gostam de tecnologia e não têm medo.
A senhora percebe resistência de educadores ou das próprias instituições em relação às tecnologias? Há medo de romper hierarquias?
Hierarquia é a palavra-chave. Na escola, as crianças são tratadas quase ditatorialmente. Sentam-se em fila e, caso se virem, têm que justificar. Os professores dizem “não olha para o lado, não cola do colega”. A cola deveria ser obrigatória. Cola é cooperação. É uma criança colocando a dúvida, e outras tentando ajudar. Você tem avaliações em que uma só resposta é certa, e todos os alunos têm que dizer a mesma coisa. O problema não é ter apenas uma resposta certa, mas os estudantes têm que testar essas respostas e ver qual resolve melhor o problema. Mas o pior são os cursos de licenciatura, que formam professores, mas não se atualizam.
A mudança desse paradigma deve começar na universidade?
Parece que isso é ilusão, sonho. Os professores que ensinam nas universidades são doutores, famosos, escrevem teses científicas e livros. Eles não querem dar o braço a torcer e dizer “nós temos que aprender de novo”. Então o computador não entra nas licenciaturas, que é onde deve estar. As melhores licenciaturas são aquelas em que os cursos abraçam a tecnologia. Ser professor é um encantamento, e é um encantamento também em poder se atualizar.